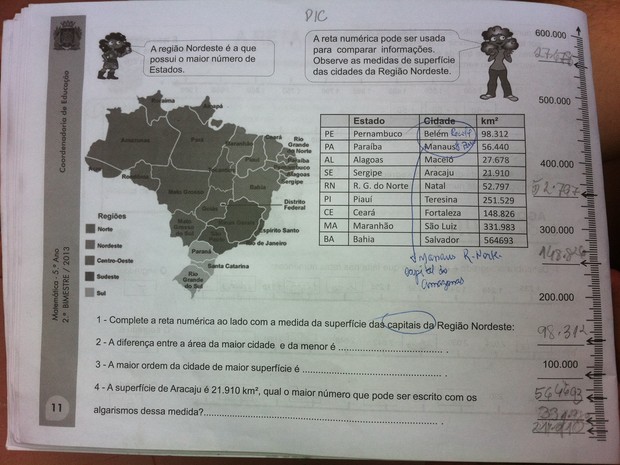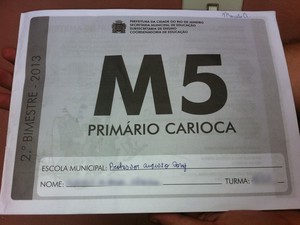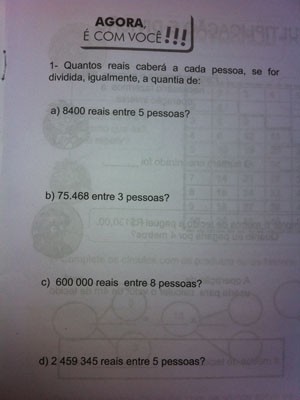DOIS ou DUAS
milhões de pessoas?
Leitor apresenta uma dúvida de
concordância: “Se o certo é DOIS MILHÕES DE PESSOAS, estaria errado UMA MIL
PESSOAS?”
A diferença é a seguinte:
MILHÃO é palavra masculina. Isso significa que os artigos, os
pronomes e os numerais que o antecedem devem concordar no MASCULINO:
“ESTES DOIS milhões de pessoas…”;
O numeral MIL não é masculino nem feminino. A concordância
deve ser feita com o substantivo:
“DOIS mil ALUNOS…”;
“DUAS mil ALUNAS…”.
Observação importante: não se usa UM ou UMA antes de MIL. Basta dizer: “MIL
pessoas compareceram ao evento”.
2ª) SAMBAS-CANÇÃO
ou SAMBAS-CANÇÕES?
É tema polêmico.
Segundo a tradição gramatical, todo substantivo no papel de adjetivo torna-se
invariável: camisas LARANJA, blusas ROSA, casacos VINHO…
Em palavras compostas por dois substantivos, se o segundo exercer a função de
adjetivo, somente o primeiro elemento vai para o plural: carros-bomba,
peixes-boi, laranjas-lima, caminhões-pipa, elementos-chave…
Entretanto, essa regra não é lá muito respeitada. Encontramos, por exemplo,
registro de duas formas para o plural de DECRETO-LEI: decretos-lei e
decretos-leis.
Há mais exemplos: micos-leões, cidades-satélites…
Embora não possa negar que a tal regra não seja muito rígida, prefiro
respeitá-la: SAMBAS-CANÇÃO.
3ª) Nenhum dos
candidatos FOI ELEITO ou FORAM ELEITOS?
Aqui não há polêmica. O certo
é: “Nenhum dos candidatos FOI ELEITO”.
O verbo deve concordar com o núcleo do sujeito (=nenhum): NENHUM foi eleito.
Observe outros exemplos:
“UM dos presentes RESOLVERÁ o caso.”
“QUAL de vocês VAI fazer o trabalho?”
“ALGUÉM dentre nós SERÁ o responsável pelo projeto.”
“NENHUM de nós dois PÔDE comparecer à reunião.”
4ª) À DISTÂNCIA ou
A DISTÂNCIA?
Carta de leitor: “Aprendi e
durante muitos anos ensinei que não se usa crase diante da palavra DISTÂNCIA
quando ela é indeterminada: ‘A tropa ficou a distância”; “O inimigo estava a
distância”. (…) Como leio nos jornais, revistas, publicações do MEC a expressão
“ensino à distância”, fico a me perguntar se, por acaso, eu estaria errado.”
Meu caro leitor, a sua dúvida é, na verdade, a de muitos.
É outro caso polêmico. Há muito que estava para escrever a respeito desse
assunto. Hoje em dia, antes de responder a certas perguntas, eu consulto a mais
de dez gramáticas.
Quanto ao uso do acento indicativo da crase antes da palavra DISTÂNCIA, só há
uniformidade de pensamento se a distância estiver determinada: “Ficamos à
distância de dois metros do palco”.
Se a distância não estiver determinada, teremos um problema a enfrentar: alguns
autores afirmam que não ocorre a crase, outros simplesmente “fogem” do assunto,
e a maioria consultada é favor da crase.
Eu defendo o uso do acento da crase por se tratar de uma locução feminina.
Entra no mesmo caso de: à vista, à beça, à toa, à força, à mão, à vontade, às
claras, às vezes…
Portanto, prefiro “ensino à distância”.
5ª) A CRASE e os
PRONOMES DE TRATAMENTO
Leitor quer exemplos de como usar o acento
indicativo da crase com os pronomes de tratamento.
1o) Não há crase antes de pronomes de tratamento que podem designar tanto homem
quanto mulher (VOSSA SENHORIA, VOSSA EXCELÊNCIA, VOSSA MAJESTADE, VOSSA
SANTIDADE…):
“Comunicamos a V.Sa que…”
“Solicitamos a V.Exa. que…”
Não ocorre a crase porque não há artigo definido feminino “a” antes dos pronomes
de tratamento. Só temos a preposição “a”.
2o) Na frase “Venho à presença de V.Exa. …”, o acento da crase é obrigatório,
pois além da preposição (=vir “a”) temos também o artigo definido feminino (=
“a” presença): “Venho à (=a+a) presença…” = “Venho ao encontro…”
É importante observar que a crase ocorreu antes da palavra PRESENÇA, e não
antes do pronome de tratamento. São situações diferentes que não podem ser
confundidas e que devem ser analisadas separadamente.
Você
sabe para que serve a conjunção “ou”?
Hoje
você ficará sabendo que ela tem muitas funções. Em razão disso, a concordância
verbal merece alguns cuidados.
Veremos
também mais pouquinho do sempre difícil uso do acento da crase.
“Ou
você ou eu TEREI ou TEREMOS de resolver o problema?”
O certo
é “Ou você ou eu TEREI de resolver o problema”.
a)
Quando temos a idéia de “exclusão” (= ou…ou), o verbo concorda com o núcleo
mais próximo: “Ou você ou EU terei de resolver o problema.” (= apenas um
resolverá o problema); “Ou eu ou o diretor TERÁ de viajar para São Paulo.” (=
apenas um viajará); “O Brasil ou o Chile SERÁ a sede do próximo campeonato.”
b)Se
não houver idéia de “exclusão” (= e/ou), a concordância é facultativa: “O
gerente ou o diretor PODE ou PODEM assinar o contrato.” (= um ou os dois podem
assinar); “Dinheiro ou cheque RESOLVE ou RESOLVEM o meu problema.”
c)Se
houver idéia “aditiva” (= e), o verbo deve concordar no plural: “O pintor ou o
escultor MERECEM igualmente o prêmio.” (= o pintor e o escultor merecem
igualmente o prêmio); “Futebol ou carnaval FAZEM a alegria do brasileiro.”
RESUMO
– Concordância com sujeitos com núcleos ligados por OU:
(a) Com
idéia de exclusão * o verbo concorda com o núcleo mais próximo.
Ou você ou eu TEREI de viajar a Brasília.
(=apenas um viajará)
(b) Sem
idéia de exclusão (=e/ou) * a concordância é facultativa (preferência pelo
plural).
O meia ou o atacante PODEM (ou PODE) resolver
o jogo. (=um ou os dois podem resolver o jogo)
(c) Com
idéia de adição (=e) * o verbo fica no plural.
O meia
ou o atacante MERECEM igualmente o prêmio. (=os dois merecem o prêmio)
Crase
sem crise
A
reunião será … das 2h às 4h da tarde ou
de 2h às 4h da tarde ou
de duas a quatro horas ? ? ?
A
reunião pode ser “das 2h às 4h da tarde” ou “de duas a quatro horas”. A reunião
que vai “das 2h às 4h” começa exatamente às 2h e termina precisamente às 4h.
Para haver a idéia de “exatidão, precisão”, é necessário que usemos o artigo
definido. Isso justifica o uso da preposição “de” + o artigo definido “as”
(=”das 2h”) e a crase (= “às 4h”). Não devemos usar “de 2h às 4h”.
A outra
reunião que vai “de duas a quatro horas” não definiu a hora para começar ou
terminar. Temos apenas uma idéia aproximada da duração da tal reunião. Não há
artigo definido, logo existem apenas as preposições: “de…a”.
Podemos
usar essa “dica” em outras situações:
“Trabalhamos
de segunda a sexta.” (= de … a …)
“O
torneio vai da próxima segunda à sexta-feira.” (= da … à …)
“Leia
de cinco a dez páginas por dia.” (= de … a …)
“Leia
da página 5 à 10.” (= da … à …)
“Ficou
conosco de janeiro a dezembro.” (= de … a …)
“Ficou
conosco do meio-dia à meia-noite.” (= do … à …)
“O
congresso vai de cinco a quinze de janeiro.” (= de … a …)
“O
aumento será de 2% a 5%.” (= de … a …)
Teste
de ortografia
Assinale
a opção que completa corretamente as lacunas da frase “O motorista deixou a
__________ cair na __________ .”
(a) gorjeta – sarjeta;
(b) gorjeta – sargeta;
(c) gorgeta – sargeta;
(d) gorgeta – sarjeta.
Resposta
do teste: letra (a). Tanto GORJETA quanto SARJETA devem ser grafadas com “j”.
Nenhum dicionário registra “gorgeta” ou “sargeta”, com “g”.
Você
sabia que há palavras que são “coringas”?
São
palavras que substituem muitas outras. Isso caracteriza pobreza vocabular e
torna a frase muita imprecisa.
E isso
é perigoso porque podemos dar várias interpretações.
Sem
dúvida alguma, a pior de todas é a palavra COISA.
Freqüentemente
ouvimos alguém dizendo: “Agora a coisa ficou preta”. O mais intrigante é o uso
da palavra COISA. Que coisa maravilhosa! COISA é uma palavra sensacional:
substitui qualquer coisa e não diz coisa alguma. É a palavra de sentido mais
amplo que conheço. Faltou sinônimo, lá vai a coisa.
Coisa é
uma palavra tão versátil que já virou até verbo: “Eles estão coisando”. Lá sabe
Deus o que eles estão fazendo! Coisa é um substantivo, mas é capaz de ser usado
no grau superlativo absoluto sintético, como se fosse adjetivo: “Não fiz
coisíssima nenhuma”.
Por
tudo isso, é inadequado o uso da palavra coisa em textos mais cuidados e
formais.
Essa
análise me faz lembrar a história de um fiscal da carteira hipotecária de um
grande banco no interior do Paraná. Certo fazendeiro fez um empréstimo no
banco, hipotecou a fazenda e, um mês depois, morreu. O banco, preocupado,
mandou o tal fiscal à fazenda. Lá chegando, ficou feliz ao ver que tudo corria
bem. A viúva trabalhava duro, o dinheiro investido já trazia lucros para a
fazenda e o pagamento da hipoteca estava garantido. Ao retornar à sua cidade, o
fiscal não teve dúvida e escreveu no relatório que enviou ao seu chefe: “O
fazendeiro morreu, mas o banco pode ficar tranqüilo porque a viúva mantém a
coisa em pleno funcionamento”. Lá sabe Deus que coisa é essa!?
O uso
excessivo do verbo colocar é outro caso que merece cuidados.
Certa vez, numa mesa-redonda, um amigo me
pediu: “Professor, posso fazer uma colocação?” Respondi rapidamente: “Em mim,
não!”
Observe
alguns exemplos que comprovam o empobrecimento do nosso vocabulário devido ao
uso exagerado do verbo colocar:
1. O
soldado não quis colocar a farda.
2. É preciso colocar mais sal no feijão.
3. O médico foi obrigado a colocar uma sonda.
4. Ele decidiu colocar o anúncio no jornal.
5. Eles não querem colocar os quadros nesta
parede.
6. Para não cair, precisou colocar as mãos nos
ombros do colega.
7. Os ladrões pretendiam colocar o dinheiro
roubado numa lixeira.
8. Os noivos vão colocar o convite no quadro
de avisos.
9. É necessário colocar em prática todas as
suas idéias.
10. É bom não colocar essa palavra no texto.
11. Resolveu colocar todo o dinheiro no banco.
12. É preciso colocar os relatórios nas pastas
de cada fornecedor.
13. Esta obra vai colocar o poeta na Academia
Brasileira Letras.
14. O fanático pretendia colocar fogo nas
vestes.
15. O diretor pediu a palavra para colocar
suas idéias.
Vejamos
o que poderíamos ter feito para evitar essa chatice de tanto colocar:
1. O
soldado não quis vestir a farda.
2. É preciso acrescentar mais sal no feijão.
3. O médico foi obrigado a introduzir uma
sonda.
4. Ele decidiu publicar o anúncio no jornal.
5. Eles não querem pendurar os quadros nesta
parede.
6. Para não cair, precisou apoiar (ou pousar)
as mãos nos ombros do colega.
7. Os ladrões pretendiam esconder o dinheiro
roubado numa lixeira.
8. Os noivos vão fixar o convite no quadro de
avisos.
9. É necessário pôr em prática todas as suas
idéias.
10. É bom não escrever (ou empregar ou usar)
essa palavra no texto.
11. Resolveu depositar todo o dinheiro no
banco.
12. É preciso guardar os relatórios nas pastas
de cada fornecedor.
13. Esta obra vai levar (ou conduzir) o poeta
à Academia Brasileira Letras.
14. O fanático pretendia atear fogo nas
vestes.
15. O diretor pediu a palavra para apresentar
(ou expor ou defender) suas déias.
Depois
de fazer todas essas “colocações”, vou tentar “colocar” a minha cabeça em ordem
e “colocar” as barbas de molho. Por ter “colocado” todas as minhas idéias para
fora, agora eu posso “colocar” a cabeça no travesseiro e descansar. Estou
esperando que você também “coloque” para fora a sua opinião e que “coloque” em
prática o que aprendeu aqui: “coloque” outro verbo no lugar do COLOCAR
Teste
de ortografia
Assinale
a opção que completa corretamente as lacunas da frase “O problema surgiu
___________, _____________ houve grande tumulto.”
(a) de
repente – por isso;
(b) de repente – porisso;
(c) derrepente – porisso;
(d) derrepente – por isso.
Resposta
do teste: letra (a). DE REPENTE deve escrito sempre separado. Não existe a
forma “derrepente”. Em conseqüência, também não existe a forma
“derrepentemente”. O correto é REPENTINAMENTE. E você sabe quando é que se
escreve “porisso” junto? Nunca. A conjunção conclusiva POR ISSO deve ser
escrita sempre separada.
Você se lembra do sujeito composto?
Hoje é
dia de enfrentá-lo. Como será que devemos fazer a concordância verbal com os
sujeitos compostos?
E mais
um pouquinho de crase.
Vamos
concordar
1.”Não só o aluno mas também o professor ERROU
ou ERRARAM a questão?”
O
correto é “Não só o aluno mas também o professor ERRARAM a questão”. O verbo
vai normalmente para o PLURAL, concordando com o sujeito composto.
Quando
o sujeito composto é ligado por “não só…mas também” ou por “não só…como
também”, o verbo deve concordar no PLURAL:
“Não só o aluno mas também o professor ERRARAM
a questão.”
“Não só o público como também os organizadores
FICARAM insatisfeitos.”
2. “Nem
eu nem você PODE ou PODEMOS viajar neste mês?”Tanto faz. As duas formas são
aceitáveis.
1. Quando
o sujeito COMPOSTO é ligado pela dupla negativa “nem…nem”, a concordância é
facultativa (singular ou plural): “Nem o gerente nem o diretor COMPARECEU ou
COMPARECERAM à reunião” e “Nem eu nem você PODE ou PODEMOS viajar neste mês.”
Se
houver idéia de alternativa (=o fato expresso pelo verbo só pode ser atribuído
a um dos sujeitos), devemos usar o verbo no SINGULAR:
“Nem o Pedro nem o José SERÁ ELEITO o
presidente do grêmio estudantil.” (=só um pode ser eleito)
2.
Quando o sujeito é SIMPLES, o verbo fica no SINGULAR:
“Nem um nem outro diretor COMPARECEU à
reunião.”
“Ainda não CHEGOU nem uma nem outra
candidata.”
Crase
sem crise
1. Saiu a noite ou à noite?
Depende.
Se
“saiu a noite”, foi a noite que saiu. Eu vou entender que quem saiu foi a noite
(=sentido figurado): “a noite surgiu, apareceu…” ou simplesmente “anoiteceu”.
Entretanto,
se você “saiu à noite”, significa que você não saiu “à tarde ou pela manhã”, ou
seja, “à noite” é um adjunto adverbial de tempo.
2. Saiu
as 10h ou às 10h?
Só pode ter sido “às 10h”.
“Hora”
indica tempo e é uma palavra feminina. É um adjunto adverbial de tempo formado
por palavra feminina, logo devemos usar o acento grave: “A aula começa sempre
às 7h”; “A reunião será às 8h”; “A sessão só começará às 16h”; “Ele vai sair às
20h”.
3. A
reunião será a ou à partir das 14h?
O certo é: “A reunião será a partir das 14h”
(=sem acento da crase).
“A partir de” é uma locução prepositiva
formada por um verbo. Não há crase, porque é impossível haver artigo antes de
verbo (=partir).
Teste
de ortografia
Assinale
a opção que completa corretamente as lacunas da frase “Esta ________ não
________ tampa.”
(a) tijela – possui;
(b) tijela – possue;
(c) tigela – possue;
(d) tigela – possui.
Resposta
do teste: letra (d). Não existe “tijela”, com “j”. Toda tigela se escreve com
“g”. A forma verbal POSSUI deve se grafada com “i”, porque é do verbo POSSUIR,
que se escreve com “i”: possuir – ele possui; influir – ele influi; concluir –
ele conclui; atrair – ele atrai; cair – ele cai; distrair – ele distrai.
Hoje
vamos discutir um tema muito polêmico: os neologismos.
Vamos
ver como é que uma palavra nasce e sobrevive
Afinal,
a palavra existe ou não existe?
Qual é o critério para se aceitar ou não a
existência de uma nova palavra?
A
verdade é que, para a maioria dos brasileiros, uma determinada palavra só
existe quando está no dicionário. Pior ainda: para muitos é como se houvesse um
único dicionário: O Aurélio. Quantas vezes você já ouviu: “Esta palavra nem
está no Aurélio“, como se isso fosse a prova definitiva da inexistência da
palavra.
Ora,
tudo isso é lenda. Não são os dicionários que determinam a existência das
palavras.
O
Aurélio não é o dono da língua portuguesa nem o único dicionário ao nosso
dispor. Temos vários: Houaiss, Caldas Aulete, Michaelis, Francisco Borba,
Laudelino Freire, Celso Pedro Luft,,,
Nenhum
deles inclui todas as palavras presentes na nossa língua. É bom lembrar que
dicionário algum, no mundo, terá essa capacidade. O dicionário vai ser sempre
incompleto.
Todo
dicionário resulta de uma escolha, de uma seleção de palavras feita pelos
autores. E isso explica por que encontramos uma determinada palavra no Houaiss
mas não no Aurélio ou vice-versa: BIOTERRORISMO aparece no Aurélio, não no
Houaiss; IMEXÍVEL tem registro no Houaiss, mas não no Aurélio.
A
função do dicionarista é escolher segundo critérios próprios.
Assim
sendo, o fato de uma palavra usual não aparecer no dicionário não significa que
ela não exista.
Na
língua portuguesa, o processo mais produtivo de novas palavras é a derivação.
Pelo acréscimo de afixos (prefixos e sufixos) podemos formar novos
substantivos, adjetivos ou verbos: assessoramento, normatização, imperdível,
imexível, disponibilizar, minimizar…
O fato
de não encontrarmos uma palavra nos dicionários não significa desaprovação, mas
o contrário é bem significativo. É sinal de reconhecimento por parte dos
autores, que eles julgam a palavra importante e merecedora de inclusão. O uso
de qualquer palavra dicionarizada sempre terá o respaldo de pessoas estudiosas,
dos lexicógrafos responsáveis pela organização de nossos dicionários.
Não é,
portanto, o dicionário que determina a existência de uma palavra. O
dicionarista apenas registra os vocábulos que ele selecionou.
O que
verdadeiramente determina o nascimento e a existência de uma palavra é o
falante, é a necessidade do seu uso. Se o novo vocábulo sobreviverá ou não, só
o tempo dirá. O dicionário vem depois para registrar o fato.
Os
neologismos existem em todas as línguas vivas. Isso é enriquecimento vocabular.
Crase
sem crise
As
vezes ou às vezes?
Usaremos
o acento grave somente quando às vezes for uma locução adverbial de tempo (=de
vez em quando, em algumas vezes): “Às vezes os alunos acertam esta questão.”;
“O Flamengo às vezes ganha do Fluminense.”
Quando
não houver a idéia de “de vez em quando”, não devemos usar o acento grave:
“Foram raras as vezes em que ele veio aqui.” (as vezes = sujeito); “Em todas as
vezes, ele criou problemas.” (= não há a preposição “a“, por isso não ocorre a
crase; temos somente o artigo definido “as“).
Teste
de ortografia
Assinale
a opção que completa corretamente as lacunas da frase “Pagou a inscrição de
___________ reais, e chegou em ___________ lugar.”
(a)
cinqüenta – octagésimo;
(b) cinqüenta – octogésimo;
(c) cinquenta – octagésimo;
(d) cincoenta – octogésimo.
Resposta
do teste: letra (b). O numeral cinqüenta deve ser grafado sempre com “qu” e
trema. A forma “cincoenta” não tem registro, e o trema é obrigatório. O numeral
ordinal de 80 é octogésimo. A forma “octagésimo” também não tem registro em
nossos dicionários nem no Vocabulário Ortográfico da Academia Brasileira de
Letras.
Vamos
ver hoje mais algumas dicas de concordância e a respeito do uso do acento da
crase.
1. “Fui
eu que FIZ ou FEZ o relatório?”
O correto é “Fui eu que FIZ o relatório”.
Quando
o sujeito for o pronome relativo QUE, o verbo deve concordar com o antecedente:
“Fui eu que RESOLVI o problema”; “Fomos nós que RESOLVEMOS o problema”; “Eu fui
o primeiro que RESOLVEU o problema”; “Nós fomos os últimos que SAÍRAM da sala”.
Quando
o sujeito for o pronome relativo QUEM, a concordância se faz normalmente na 3ª
pessoa do singular: “Fui eu QUEM RESOLVEU o caso”; “Na verdade, são vocês QUEM
DECIDIRÁ a data”.
Observe
que, se invertermos a ordem, não haverá dúvida alguma: “QUEM RESOLVEU o caso
fui eu”; “QUEM DECIDIRÁ a data são vocês”.
2. “Ele
é um dos que VIAJOU ou VIAJARAM?”
Embora
alguns gramáticos considerem a concordância facultativa, nós preferimos usar o
verbo no PLURAL, para concordar com a palavra que antecede o pronome relativo
QUE: “Ele é um DOS que VIAJARAM.”
O
raciocínio é o seguinte: “dentre aqueles que viajaram, ele é um”.
Um
outro motivo que nos leva a preferir o verbo no PLURAL é a concordância
nominal. Todos diriam que “ele é um dos artistas mais BRILHANTES” (=que mais
BRILHAM). Ninguém usaria o adjetivo BRILHANTE no singular.
Portanto,
depois de UM DOS…QUE, faça a concordância com o verbo no PLURAL: “Ela foi uma
DAS MULHERES que SOCORRERAM as vítimas da enchente.” “É aniversário de um DOS
MAIORES HOSPITAIS do país que TRATAM o câncer infantil.” “Um DOS FATOS que mais
CHOCARAM os pesquisadores foi a excessiva quantidade de prescrições.”
Observe
melhor: “Um dos jogadores que foram convocados pelo Dunga ainda não chegou a
Teresópolis.” = “Dos jogadores que foram convocados, um ainda não chegou” (=
Foram convocados vários jogadores, mas um só ainda não chegou).
Crase
sem crise
A
procura ou à procura?
Depende.
Em “A
procura dos criminosos durou dez dias”, não há o acento da crase porque não há
preposição (A procura dos criminosos = sujeito).
Em “A
polícia está à procura dos criminosos”, devemos usar o acento grave porque à
procura de é uma locução prepositiva.
Observe
outros exemplos:
“A base
do triângulo mede 10cm.” (=sujeito)
“Ele vive à base de remédios.” (=locução
prepositiva)
“A moda de 1970 está voltando.” (=sujeito)
“Ela se veste à moda de 1970.” (=locução
prepositiva)
As locuções prepositivas formadas por palavras
femininas devem receber o acento grave indicativo da crase: à beira de, à cata
de, à custa de, à exceção de, à feição de, à frente de, à maneira de, à mercê
de, à moda de, à procura de, à semelhança de…
Teste
de ortografia
Assinale
a opção que completa corretamente as lacunas da frase “O ____________ não podia
______________ o resultado da ação.”
(a) adevogado – adivinhar;
(b) advogado – advinhar;
(c) adevogado – advinhar;
(d) advogado – adivinhar.
Resposta
do teste: letra (d). Em ADVOGADO, o prefixo “ad” significa “junto”. É o mesmo
de adjunto, adjetivo, advérbio… A palavra ADIVINHAR deriva de “divino”. A
adivinhação, portanto, é um dom de Deus. Pelo menos, segundo a origem da
palavra.